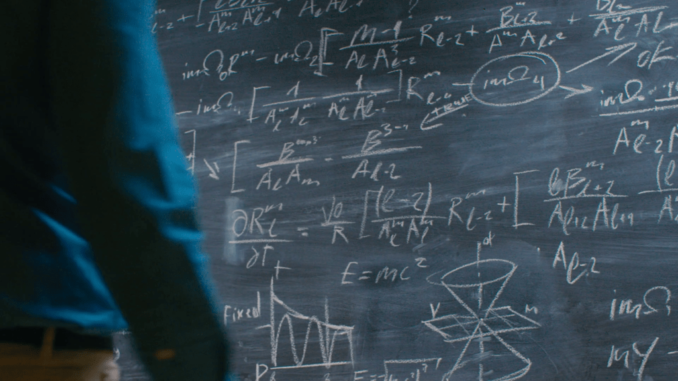
“Mas você não entendeu, Sr. Stoner?”, perguntou Sloane. “Você ainda não entendeu mesmo? Você vai ser professor.”
De repente Sloane pareceu muito distante, e era como se as paredes do escritório tivessem recuado. Stoner teve a sensação de estar em pleno ar, e ouviu sua voz perguntar: “O senhor tem certeza?”
“Tenho”, respondeu Sloane suavemente.
“Como o senhor sabe? Como pode ter certeza?”
“É amor”, disse Sloane animado. “Você se apaixonou. É só isso.”
Fiquei contente com a proposta d’O Politécnico de que eu escrevesse sobre haver incentivado, em minhas aulas de Hidráulica Geral II, a doação de sangue. Bancos de sangue no Brasil e no mundo registraram quedas abissais de seus estoques durante a pandemia de Covid-19 . E, embora não me considere a pessoa mais preparada para abordar o assunto, é inegável que esse convite me pôs a refletir. Charles A. Dana, célebre jornalista estadunidense do séc. XIX, afirmara (em tradução livre) que “notícia não é quando um cão morde um homem, mas quando um homem morde um cão.” Por que, então, o fato de um professor usar o tempo de aula para incentivar doação de sangue seria digno de nota?
Comecei a doar sangue durante a graduação. Era algo esporádico, no âmbito de campanhas organizadas na Cidade Universitária. Durante o doutorado foi que me tornei um doador regular. À época, o pai de uma amiga lutava contra um câncer e precisava de doadores de plaquetas — para o quê me prontifiquei. Contudo, antes era necessário realizar uma doação de sangue, a fim de avaliar se o meu acesso era suficientemente calibroso (isto é, se minhas veias comportariam a agulha empregada na doação de plaquetas). Infelizmente, entre a doação de sangue e a de plaquetas, o pai de minha amiga não resistiu.
Não obstante, decidi realizar a doação já agendada. Não faltavam pacientes necessitados — como certifiquei-me, momentos depois, da maneira mais triste possível. Ao saber que meu destinatário original havia falecido, uma mãe de plantão na recepção do hemocentro passou a implorar para que, em vez de realizar minha doação anonimamente, eu a registrasse em favor de seu filho. O que você faria? Atenderia a essa mãe cujo filho estava com câncer? E os demais pacientes? Seriam menos dignos de receberem uma doação por não terem alguém para interceder por eles na entrada do hemocentro? No calor do momento, não resisti ao apelo daquela senhora. Contudo, pude pensar bastante sobre esse conflito durante o longo procedimento que se iniciara. Hoje creio que cada doação deva ser destinada a quem necessita com mais urgência. Desde então, passei a doar plaquetas todo mês — sempre de maneira anônima.
Diferentemente da doação de sangue, que dura cerca de meia hora, a doação de plaquetas pode levar até duas horas. Isso se deve ao procedimento de coleta por aférese, que consiste em diversas repetições do seguinte ciclo: extração de um volume de sangue, separação dos componentes por centrifugação, retenção das plaquetas e retorno dos demais componentes (hemácias, leucócitos e plasma) à corrente sanguínea do doador. Tanto a extração quanto o retorno do sangue são promovidos por bombas de deslocamento positivo, cuja principal diferença com relação às bombas centrífugas — assunto de minha disciplina — é a de manter, independentemente da pressão no sistema (no caso, a do doador), uma vazão especificada. Por isso, quando preparava o material sobre bombas centrífugas, incluí um comentário sobre aquele outro tipo de bomba e uma de suas aplicações à qual, mensalmente, eu me submetia. Ao final da respectiva aula, ainda no primeiro semestre do ano passado, pareceu-me natural, portanto, incentivar a turma a doar sangue (e, eventualmente, plaquetas).
Mesmo assim, flagrei-me pensando se não teria me excedido, se não deveria ter me restrito ao tema da aula. No entanto, na mesma semana, um aluno me escreveu para dizer que ele, doador de sangue assíduo, fizera sua primeira doação de plaquetas. “Continue dando o seu exemplo nos próximos semestres porque ele faz diferença”, concluiu seu e-mail. No segundo semestre, aprimorei o material e estruturei um pouco mais o meu discurso. Dessa vez, um grupo de cinco colegas me enviou fotos: eles haviam combinado de realizar uma doação conjunta. Soube, ainda, que outros dois alunos doaram posteriormente. Assim, cerca de 20% dos pouco mais de 30 estudantes que compareciam regularmente às minhas aulas atenderam ao chamado. E, se no ambiente ainda predominantemente masculino da Poli não nos surpreende o fato de serem todos homens, trata-se de uma visão inusitada em um hemocentro. Segundo minha experiência e conversas com profissionais de enfermagem, a grande maioria dos doadores é do sexo feminino — mesmo elas podendo doar sangue somente três vezes ao ano (e não quatro, como os homens).
Durante a pandemia, a Poli realizou iniciativas louváveis: estudos sobre a eficácia de máscaras, análises de circulação de ar em ambientes fechados e a fabricação dos ventiladores pulmonares do projeto Inspire — fonte de orgulho para nossa instituição e merecedor de todas as homenagens. O incentivo à doação de sangue e plaquetas na escala de uma sala de aula não chega aos pés de quaisquer desses projetos. Mas a verdade é que uma coisa não exclui a outra (pergunte àquela mãe desesperada…). E, enquanto escrevo essas linhas e tento responder à pergunta ao fim do primeiro parágrafo, dou-me conta de que a própria docência é, por definição, uma forma de doação — não só de conteúdo, mas, principalmente, de tempo, de atenção, de afeto. Mais que tudo, da reciprocidade demonstrada por minhas turmas e do tanto que aprendi com meus alunos, compreendi que a docência é uma via de mão dupla.
De fato, em vias de completar meu primeiro ano lecionando nesta Escola, sinto-me um pouco como William Stoner, protagonista do romance homônimo de John Williams: a docência ainda me sabe a uma paixão recente cujo reconhecimento precede seu conhecimento. Lecionar é um ato de descobrimento, sobretudo do quê significa ser professor.
Disse lentamente [Sloane a Stoner]: “Você precisa lembrar o que você é, o que escolheu ser e o significado do que está fazendo. Há guerras e derrotas e vitórias da raça humana que não são militares e não são registradas nos anais da história. Lembre-se disso quando estiver tentando decidir o que fazer”.
Nesse mundo em que sobram bilionários e faltam bolsas de sangue, que, para além de engenheiros e líderes, a Poli forme cidadãos. Que, em suas salas e corredores prestes a serem reocupados, mais do que alunos, professores e servidores, encontremos gente humana. Que afeto e respeito não sejam discurso, mas ação. E que doação não seja uma notícia, mas um hábito. Só quem doa sabe o tamanho da sensação que, desse ato, retorna. Não cabe no Lattes.
Fábio Cunha Lofrano,
Engenheiro Civil e Doutor em Ciências (Engenharia Hidráulica e Ambiental) pela Escola Politécnica

Faça um comentário